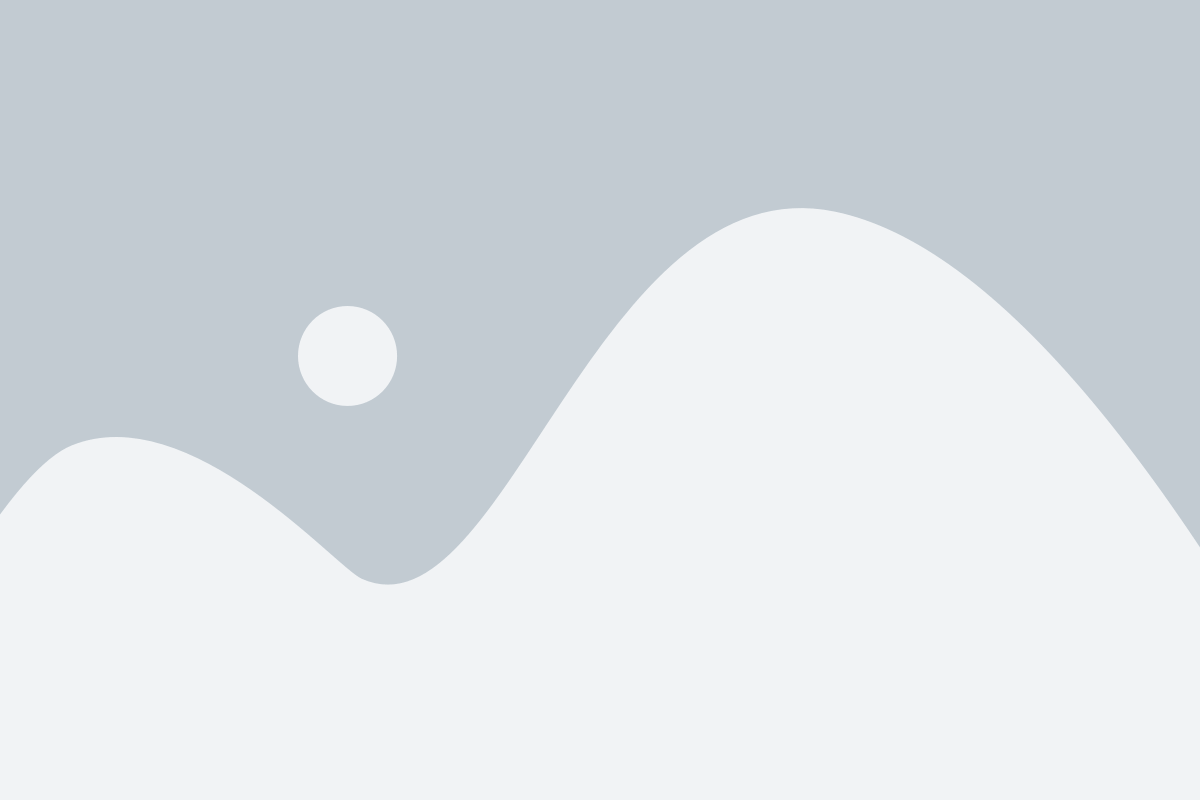Por Caio Gottlieb*
A cena que se repete no Brasil há décadas ganhou, no Rio de Janeiro, seu retrato mais brutal e simbólico. A fala de Lula em Jacarta, há poucos dias, soou como a síntese de um país que perdeu o senso moral e a autoridade do Estado: “Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também.” É o retrato fiel de um mundo invertido, onde o criminoso é tratado como vítima, e o viciado, como vilão.
Um raciocínio torto que, no fundo, revela o espírito de uma doutrina que relativiza a culpa e transforma o delito em consequência social. Não é a primeira vez. Na campanha de 2022, o mesmo Lula se vangloriou de ter intercedido em favor dos sequestradores de Abílio Diniz, que chamou de “meninos”.
Anos antes, abrigou o terrorista italiano Cesare Battisti, condenado por quatro assassinatos, como se fosse um perseguido político. E ainda mostrou complacência com ladrões de celular, justificando que “roubam porque têm fome”. Um rosário de indulgências que vai compondo o perfil de um país que se acostumou a desculpar o mal.
Mas o mal não pede desculpas. Ele avança, se fortalece e toma território quando o Estado recua. A tragédia fluminense nasceu dessa lógica perversa. Desde os tempos de Leonel Brizola, quando a ordem era não entrar nas favelas para evitar “violência contra os pobres”, o poder público desistiu de ocupar o território e o entregou, de bandeja, ao tráfico.
Nascia ali o estado paralelo, com suas leis, tribunais e exércitos. Décadas depois, o resultado está diante dos olhos do país: o Comando Vermelho governa áreas inteiras da capital, impõe toque de recolher, julga, tortura e executa quem ousa desobedecer. São cem mil pessoas vivendo sob o medo, reféns de um poder armado que decide quem vive e quem morre.
A operação Contenção, deflagrada agora nos complexos da Penha e do Alemão, foi o mais recente e contundente esforço do Estado para retomar o controle. Planejada durante setenta e cinco dias, com mandados judiciais e provas robustas, revelou a dimensão do poder bélico das facções. Drones lançando bombas, fuzis fabricados em oficinas clandestinas, câmeras termográficas e bloqueadores de GPS compõem o arsenal de um exército privado que desafia a soberania nacional. O saldo foi trágico: quatro policiais mortos, dezenas de criminosos abatidos, e a constatação de que o Rio vive um conflito armado.
Mas o sucesso operacional expôs também a hesitação política. Na coletiva em Brasília, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, protagonizaram um constrangimento público: o primeiro desautorizando o segundo, após a admissão de que o governo federal havia sido avisado da operação, mas recusara o apoio. O episódio revelou o que já se sabia — falta comando, falta coragem, falta convicção.
O quadro se agravou desde 2020, quando o ministro Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, desautorizou operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro sob o argumento de evitar contaminações pela pandemia da Covid-19. Foram cinco anos de proibição, tempo suficiente para que as facções se enraizassem ainda mais e consolidassem seu poder. O que era para ser uma medida “humanitária” transformou-se num salvo-conduto para o crime, uma rendição oficial do Estado brasileiro à força do tráfico.
Foi o estopim silencioso da tragédia que agora se desenrola a céu aberto.
O testemunho do jornalista Roberto Motta descreve com precisão o que se passou: ônibus queimados como barricadas, escolas suspensas, pontes ameaçadas, o pânico se espalhando por mensagens de celular. O Rio viveu um toque de recolher imposto por criminosos. E não há nome mais preciso para isso do que terrorismo. Narcoterrorismo. Um inimigo que não teme a lei, porque sabe que o Estado é um tigre de papel — um país que não controla fronteiras, não impede a entrada de armas e drogas, e não exerce autoridade nem sobre seus próprios bairros.
O ex-capitão e comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, em artigo no Brazil Journal, reforça a mesma ideia: não basta presença policial; é preciso transformar leis e rotinas, eliminar as brechas que sustentam o poder paralelo. Sem reformas profundas, o crime continuará vencendo a cada sentença complacente e a cada reportagem enviesada que transforma bandido em vítima.
Mas a raiz mais profunda do problema é a impunidade. Ela é o oxigênio do crime. É a mensagem silenciosa que o país envia todos os dias aos seus delinquentes de rua e aos seus corruptos de colarinho branco: ninguém vai preso. Tendo dinheiro para pagar bons advogados, explorando todos os labirintos da lei, os poderosos seguem livres — e os chefões do crime, mesmo encarcerados em presídios federais, continuam mandando, ordenando, matando.
A impunidade é a senha para o caos, e a corrupção é o seu idioma oficial. O Brasil, que descondena políticos flagrados em escândalos bilionários, é o mesmo que solta assassinos reincidentes por “falta de provas”. É o mesmo país em que a Justiça, intimidada ou corrompida, transforma tribunais em portos de desembarque da malandragem. E assim o crime, amparado pela omissão do Estado e pela covardia moral da elite política, se institucionaliza.
É nesse ambiente que floresce o sentimento coletivo de vingança. A frase “bandido bom é bandido morto” não nasceu da selvageria popular, mas do cansaço moral de uma sociedade que vê a polícia prender e a Justiça soltar, num ciclo de desmoralização que parece não ter fim. O povo apenas traduz, em linguagem brutal, o que o poder se recusa a reconhecer: que o Brasil vive um sistema de impunidade que faz da lei uma piada e da justiça, uma ficção. O país se acostuma à barbárie como quem se acostuma à chuva.
O que o Rio mostrou ao Brasil não é um caso isolado — é um espelho. O que começou nos morros cariocas já se espalha pelas periferias do país, infiltrando-se nas cidades médias, nas instituições e até na política. O crime percebeu o que o Estado finge ignorar: que o medo é o maior instrumento de poder.
Enquanto o governo prefere culpar a desigualdade, os traficantes fabricam armas. Enquanto o presidente chama os bandidos de vítimas, as vítimas se tornam estatísticas. E a sociedade, cansada de ver criminosos presos pela polícia e soltos pela Justiça, começa a naturalizar a barbárie. O Brasil chegou ao ponto em que o crime não precisa mais desafiar o Estado — ele simplesmente o substituiu.
O dia em que o Rio mostrou o Brasil não foi apenas o retrato de uma operação policial. Foi o retrato de um país inteiro rendido ao medo, desarmado pela covardia dos seus governantes e desmoralizado pela complacência das suas leis.
O que se viu nas vielas da Penha e do Alemão é o futuro que nos espera se nada mudar: um país sitiado por dentro, onde a legalidade é exceção e o crime, a regra. Que a tragédia do Rio desperte, enfim, a nação adormecida — e obrigue seus governantes a escolherem de que lado estão, enquanto ainda há tempo de salvar o Brasil de si mesmo.
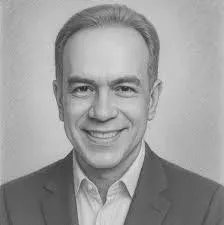
*Jornalista, publicitário, fundador e sócio-proprietário da Caio Publicidade, atua na TV Tarobá desde a sua fundação em 1979, conduzindo o programa de entrevistas Jogo Aberto.
Fonte Extra