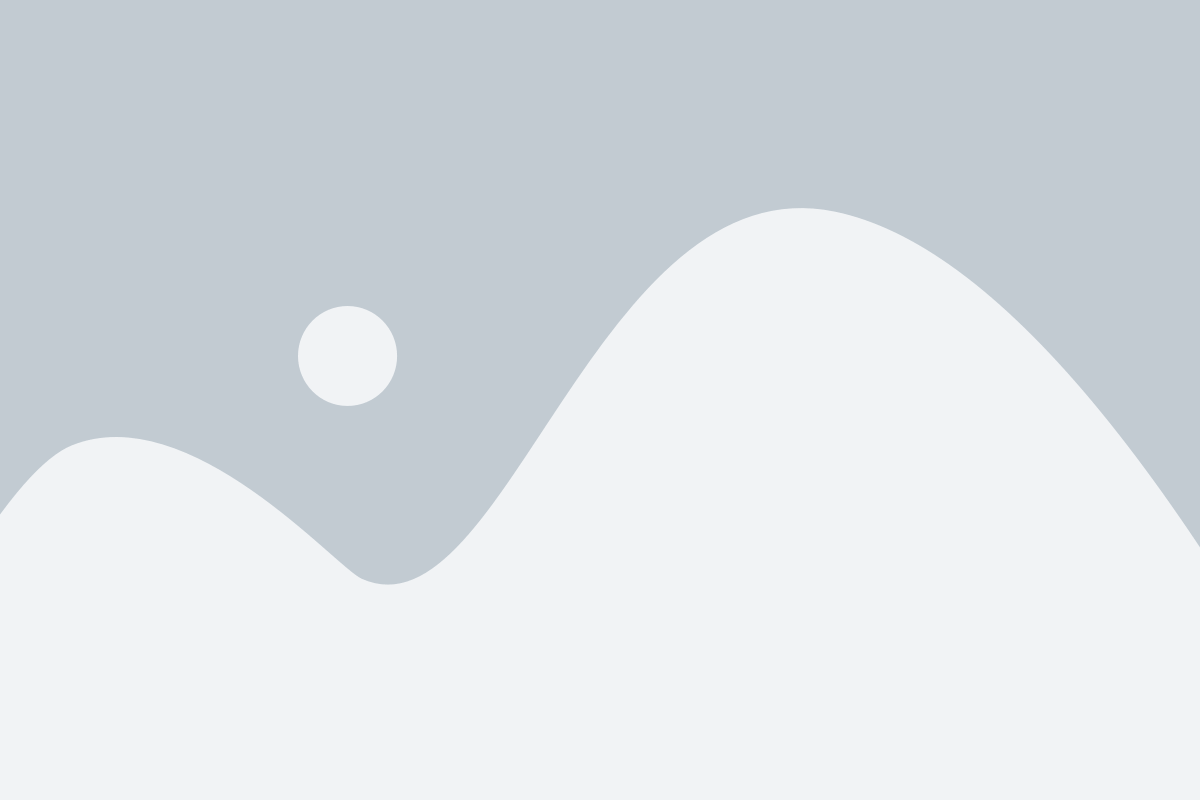Por Caio Gottlieb*
De tempos em tempos, o debate público brasileiro se deixa seduzir por ideias que reaparecem como se fossem descobertas recentes — embaladas pelo entusiasmo das redes sociais, pelo apelo moral e por uma promessa implícita de solução simples para problemas complexos. É nesse ambiente que ressurge, agora com novo rótulo e conteúdo conhecido, a proposta de redução compulsória da jornada de trabalho.
A chamada PEC 6×1, que pretende extinguir a escala de seis dias trabalhados para um de descanso, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ainda tem um longo caminho institucional pela frente — plenário, Câmara, nova votação e sanção presidencial. Mas, antes mesmo de qualquer desfecho legislativo, ela já cumpre um papel simbólico: expõe, mais uma vez, a recorrente tentação de tentar resolver entraves estruturais do país por meio de atalhos legais.
Em meio a esse debate ruidoso, marcado por slogans e promessas fáceis, vale prestar atenção à análise lúcida e bem ancorada do economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, cuja trajetória acadêmica e experiência prática conferem ao tema o indispensável senso de realidade. Ele lembra que a redução da jornada já foi amplamente debatida — e testada — em outros momentos históricos.
Nos anos 1980, quando a esquerda europeia flertou com a ideia como instrumento de combate ao desemprego, o raciocínio parecia quase milagroso: menos horas trabalhadas obrigariam as empresas a contratar mais gente. Elimina-se um dia útil do calendário e, como num passe de ilusionismo, o desemprego desaparece. A experiência mostrou o óbvio: não funciona assim.
Reduzir a jornada por decreto equivale, na prática, a reduzir a produtividade do trabalho. Produz-se a mesma quantidade — ou tenta-se — com menos horas disponíveis. O resultado é um choque adverso de oferta: para manter o nível de produção, é preciso contratar mais gente; para não contratar, é necessário produzir menos. Em qualquer cenário, os custos sobem. Não há milagre econômico escondido nessa conta.
A crença de que basta encurtar o expediente para gerar prosperidade pertence à mesma família de ilusões que já alimentou outras políticas malfadadas. No tempo da hiperinflação, a solução “simples” e “popular” era o congelamento de preços — repetido várias vezes, sempre com o mesmo desfecho previsível. A redução compulsória da jornada carrega esse mesmo DNA: oferece uma resposta fácil para um problema difícil.
O ponto central ignorado pelo debate entusiasmado é a produtividade. Países ricos conseguem trabalhar menos porque produzem mais por hora trabalhada. O Brasil está longe disso. A produtividade do trabalhador brasileiro segue baixa, em grande medida como consequência direta da precariedade do ensino, da formação técnica insuficiente e de um ambiente econômico que desestimula investimento e inovação. Não se corrige essa distorção com uma emenda constitucional.
Ao contrário: mais rigidez tende a agravar problemas já conhecidos. Regras trabalhistas excessivamente engessadas historicamente empurram parte relevante da economia para a informalidade, criam segmentações perversas no mercado de trabalho e beneficiam grupos organizados em detrimento de trabalhadores mais vulneráveis.
Não é coincidência que, quando o país caminhou na direção oposta — ampliando a flexibilidade antes da pandemia — empresas e trabalhadores tenham conseguido se adaptar melhor ao choque do trabalho remoto, das novas escalas e dos arranjos híbridos. A vida seguiu justamente porque havia margem para negociação e adaptação setorial.
É nesse mesmo espírito de sensatez que se insere a opinião do jornalista Carlos Alberto Sardenberg, um dos mais respeitados analistas econômicos do país. Ao tratar do tema, ele faz um alerta clássico, mas frequentemente ignorado: políticas sociais bem-intencionadas podem, sim, causar desastres quando desconsideram a realidade econômica. A riqueza de um país nasce da combinação entre capital, trabalho e produtividade — não da simples redistribuição de horas no calendário.
A imposição legal de uma jornada menor, sem ganhos correspondentes de eficiência, produz efeitos previsíveis. Empresas que conseguem contratar mais trabalhadores o fazem a um custo maior, repassado ao consumidor. Inflação. As que não conseguem, produzem menos, encarecem seus produtos ou inviabilizam o próprio negócio. Desemprego. Some-se a isso a aceleração da automação, com máquinas e algoritmos substituindo pessoas em ritmo ainda mais rápido.
É evidente que o argumento histórico sobre jornadas extenuantes na origem da era industrial é legítimo. Houve, sim, exploração brutal. Mas a redução progressiva do tempo de trabalho nos países desenvolvidos não veio de decretos voluntaristas: foi fruto de ganhos consistentes de produtividade, impulsionados por tecnologia, capital humano e inovação. O Brasil perdeu esse bonde — e uma lei não o fará reaparecer na estação seguinte.
No fundo, a PEC 6×1 é menos sobre o futuro do trabalho e mais sobre um vício antigo da política brasileira: a crença de que propósitos altruístas bastam. A história econômica ensina o contrário. E o velho provérbio permanece atual — talvez mais do que nunca: de boas intenções o inferno está cheio.
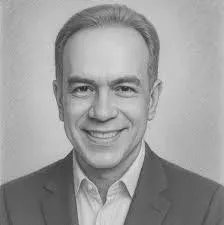
*Jornalista, publicitário, fundador e sócio-proprietário da Caio Publicidade, atua na TV Tarobá desde a sua fundação em 1979, conduzindo o programa de entrevistas Jogo Aberto.