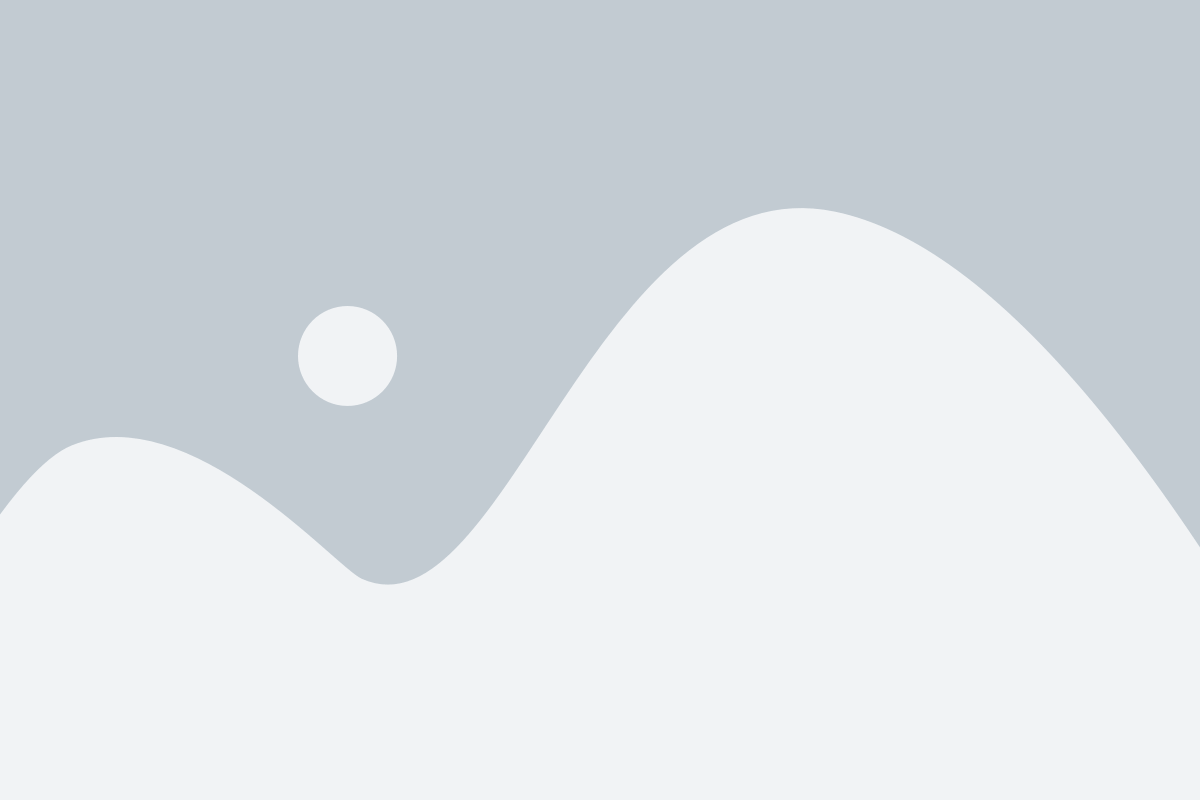Por Caio Gottlieb*
Se o mundo fosse uma sala de concertos, a madrugada do sábado (3) soou como aquele acorde abrupto que encerra uma sinfonia longa demais, dissonante demais, cruel demais.
A captura, por forças especiais dos Estados Unidos, do tirano bolivariano Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores, braço operativo do regime mafioso que há tempos atormentava a Venezuela, marca o fim de um ciclo que já não se sustentava nem pela violência, nem pela força da retórica, nem pelo disfarce das urnas, nem pela paciência das vítimas.
Debates intermináveis sobre soberania das nações, autodeterminação dos povos e direito internacional logo estarão em pauta nos ambientes acadêmicos e diplomáticos para questionar a legalidade da operação norte-americana.
Mas fora das salas climatizadas, longe das resoluções que não resolvem nada, o mundo civilizado respirou aliviado. Aliviado porque caiu o principal foco de desestabilização política, migratória e criminal da América Latina nas últimas décadas.
Mais de sete milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo não são estatística: são a prova viva do fracasso moral, econômico e humano de um regime que transformou riqueza em escassez, esperança em fuga, pátria em cárcere. Pensar que a Venezuela poderia “resolver sozinha” esse drama é um exercício de ingenuidade confortável — daqueles que só prosperam longe da realidade.
Não houve e não haveria nunca eleições livres, isentas e democráticas sob o chavismo. A última eleição presidencial foi uma fraude escancarada, tão evidente que nem mesmo o governo Lula, velho aliado do regime, teve coragem de reconhecê-la. Auditorias independentes apontaram a vitória do opositor — hoje exilado na Espanha — com ampla maioria dos votos. Falar em autodeterminação popular nesse contexto é confundir opressão com escolha.
Do ponto de vista dos Estados Unidos, a operação não nasce no improviso: o processo contra Maduro por narcotráfico e narcoterrorismo é antigo, formal e público. A recompensa oferecida por sua captura, elevada recentemente, deixa claro que, para a legislação americana, trata-se de um criminoso internacional, não de um chefe de Estado legítimo.
Entre as poucas vozes que recusaram a encenação e a coreografia diplomática, destacou-se o presidente da Argentina, Javier Milei. Teve a coragem rara de dizer em voz alta o que muitos preferiram apenas aplaudir em silêncio: elogiou a operação e celebrou o fim de uma ditadura. Fez isso sem cálculo duplo, sem fingimento, sem o teatro moral que vem dominando a política internacional.
O restante do mundo optou pelo caminho mais confortável: condenar em público, aplaudir em privado.
Um malabarismo diplomático cuidadosamente ensaiado, pensado para registrar discordância formal sem desagradar Washington, nem provocar Donald Trump, nem comprometer relações estratégicas.
Nada mais revelador do estado atual das relações internacionais do que notas oficiais escritas com a mão da hipocrisia e assinadas com tinta de conveniência.
O exemplo mais grotesco veio da Rússia, que condenou a “agressão armada” dos Estados Unidos. A mesma Rússia que invadiu a Ucrânia de forma covarde, imotivada e com objetivos explícitos de conquista territorial; a mesma Rússia que atacou um Estado soberano e democrático. Quando Moscou fala em legalidade internacional, o mundo não ouve uma advertência — assiste a uma caricatura.
Não menos constrangedora foi a reação do governo brasileiro, que classificou a operação como “inaceitável” e exibiu indignação em tom solene. Resta agora esperar que utilize as mesmas palavras e a mesma veemência para criticar o companheiro Putin pelo ataque à Ucrânia. Até hoje, isso não aconteceu.
Há ainda uma imagem que o tempo não apagará: Nicolás Maduro, hoje preso e a caminho dos Estados Unidos para responder por narcotráfico e narcoterrorismo, foi recebido por Lula no Palácio do Planalto com tapete vermelho, banda de música e honras de chefe de Estado. Aquela fotografia não é apenas um registro diplomático; é um retrato histórico que envergonhará o Brasil para sempre, um instante congelado que sintetiza escolhas, cumplicidades e silêncios.
Os Estados Unidos, claro, não agiram por altruísmo puro. Potências não agem assim. Há interesses estratégicos, geopolíticos e econômicos.
Mas há momentos em que interesses e justiça se cruzam. E este foi um deles. Ao remover um ditador sanguinário que já não cairia por dentro, Trump livrou a Venezuela de um inferno que poderia durar ainda muitas décadas.
No fim das contas, o que se viu hoje não foi apenas a queda de um déspota. Foi o colapso de uma farsa sustentada por medo, fraude e conivência internacional.
E a reação global — feita de discursos vazios, condenações ensaiadas e aplausos envergonhados — apenas confirmou o óbvio: o cinismo virou política de Estado, e a hipocrisia, linguagem oficial.
Mas, apesar de tudo, milhões de venezuelanos hoje dormem com algo que lhes havia sido roubado há muito tempo: a possibilidade concreta de futuro. E isso, gostem ou não os autores das notas protocolares, é um fato histórico digno de comemoração.
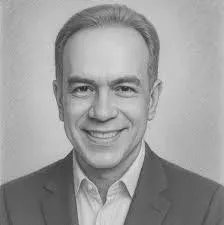
*Jornalista, publicitário, fundador e sócio-proprietário da Caio Publicidade, atua na TV Tarobá desde a sua fundação em 1979, conduzindo o programa de entrevistas Jogo Aberto.