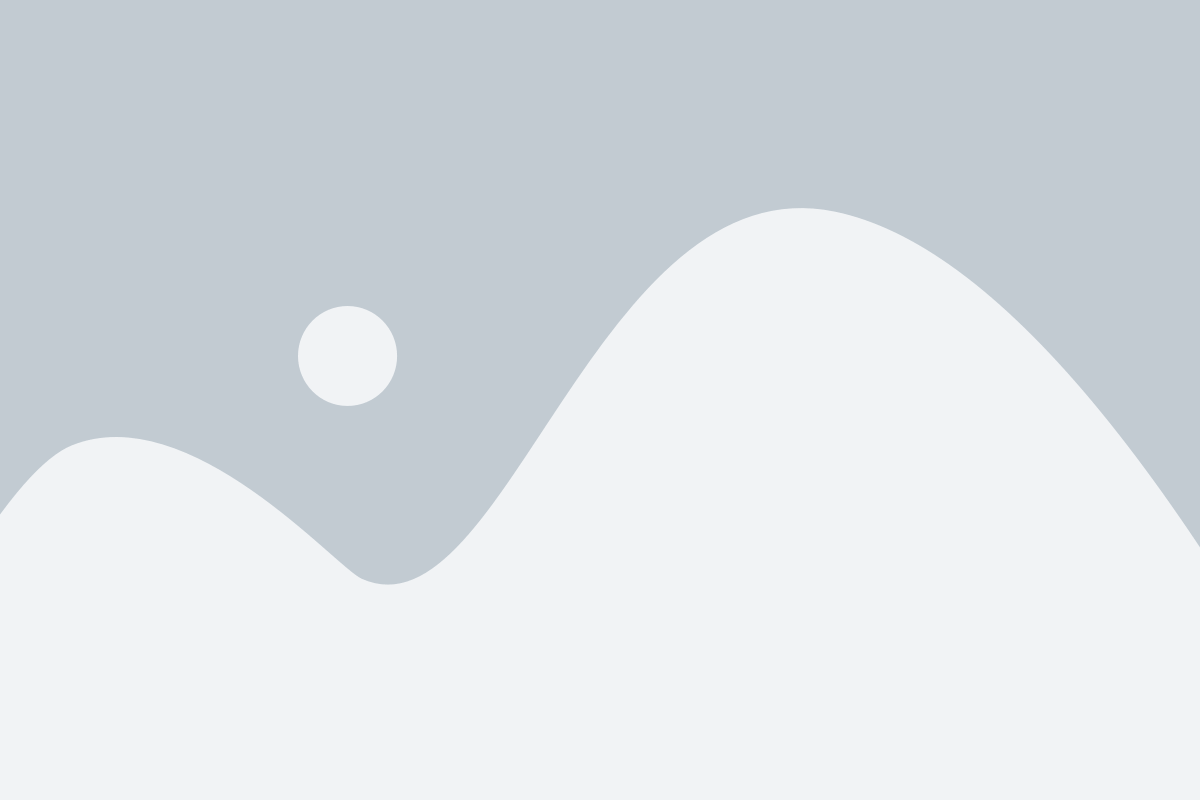Por Caio Gottlieb*
A polarização política brasileira ergueu muralhas onde antes havia apenas divergências. De um lado e de outro, trincheiras ideológicas transformaram o debate público numa guerra de narrativas impermeáveis, cada qual blindada pela certeza inabalável de que a verdade absoluta habita exclusivamente o próprio campo.
Nesse território fraturado, opiniões isentas tornaram-se espécie rara, quase extinta — fósseis de uma era em que ainda era possível discordar sem demonizar, criticar sem excomungar.
É nesse cenário de surdez recíproca que emergem, como lâminas de luz cortando a escuridão, as análises de Fernando Schüler.
Cientista político, filósofo, sociólogo e professor universitário, Schüler é, como todo mundo sabe, um dos mais brilhantes porta-vozes do pensamento conservador no Brasil, pregador incansável dos valores da direita liberal e defensor intransigente da liberdade de expressão.
Mas há algo que o distingue dos soldados rasos das guerras ideológicas: a recusa em subordinar a verdade à conveniência tribal.
Suas opiniões não prestam vassalagem a narrativas pré-fabricadas.
Fotografam a realidade com nitidez incômoda, elegância cirúrgica e uma honestidade intelectual que desafia contestação.
No artigo que reproduzo mais adiante, publicado no Estadão, Schüler disseca o escândalo do Banco Master e, mais importante, radiografa com precisão assustadora os desdobramentos institucionais que dele emanam.
O retrato que emerge é vigoroso, contundente, incontestável.
Sem histeria, sem hipérbole, apenas com a lucidez de quem enxerga — e ousa nomear — aquilo que muitos preferem não ver: os limites borrados entre o público e o privado, a degradação silenciosa das instituições, a inversão perversa pela qual a autoridade passa a subordinar a lei, e não o contrário.
Schüler descreve, com ironia afiada e melancolia lúcida, o ponto a que chegamos.
Mostra como, em nome de uma suposta defesa da democracia, consolidou-se um modus operandi em que a crítica é criminalizada, a norma é flexibilizada ao sabor do poder, e a sociedade — não cega, mas tolamente passiva — aceita promessas vagas enquanto os escândalos vão se sucedendo um atrás do outro.
Compadrio brasileiro é movido a contratações de parentes de ministros, jatinhos, charutos e resorts
Há um vezo patrimonialista nisso tudo. O banqueiro que contrata o ex-ministro da Fazenda e com isso emplaca um encontro fora da agenda com o presidente. Depois contrata o escritório da esposa de um ministro. E logo adiante o escritório de um segundo ministro, para “serviços jurídicos estratégicos”.
Isso é a grande festa do compadrio brasileiro, movida a jatinhos, charutos, resorts e eventos de luxo. Alguma ilegalidade nisso tudo? De um interlocutor escutei que “não”. E seu raciocínio era cristalino: são os ministros que dizem o que é legal ou ilegal. Valia para a instância devida e para a censura prévia, lembram? Porque não valeria agora para uso de jatinhos e conflito de interesses?
Observando estas coisas me lembrei de quantas vezes escutamos, nestes anos todos, que a justiça era “cega, mas não tola”. Isso valeu para quase tudo. A moça do batom rabiscando naquela estátua; o dossiê do PL sobre as urnas; aquela turma de empresários no WhatsApp. Apenas um papo-furado? Ora, ora, a Justiça é cega, mas não é tola… Agora tudo se inverteu? A esposa do ministro surge com um contrato de R$ 129 milhões e o marido vai julgar o caso. Os irmãos do relator têm negócios com o investigado.
Algum problema? Nenhum. Se aceitamos lá atrás a regra de que é a autoridade que subordina a lei, e não o contrário, porque deveríamos reclamar, justo agora?
Haveria uma saída, para tudo isso? A resposta veio do ministro Fachin. “Quem tenta desmoralizar o STF”, diz ele, “está atacando o próprio coração da democracia…”. Já escutamos isso em algum lugar. A lógica é: se você critica o STF, “corrói sua autoridade”. E com isso “ataca a democracia”. Perfeito. Se alguém quiser ajudar a democracia, jamais critique o STF. É algo ridículo, mas durante anos foi a pedra de toque de nossa elite e “mídia profissional”.
O sinal de Fachin é claro: não haverá correção interna de rumos. O Tribunal aprendeu, há bom tempo, que o melhor é jogar parado. Não foi assim com o caso Tagliaferro? Ao invés de uma investigação, é o denunciante que vira réu. Alguma reação? É o mesmo agora. Alguém fará alguma coisa com os contratos das esposas, filhos, irmãos? Logo chega o Carnaval, depois a pré-campanha, a polarização de sempre. E é vida que segue. Nossos donos do poder, entre um charuto e outro, em Brasília, descobriram algo simples: a sociedade não é cega. Os fatos estão aí, para quem quiser enxergar. Mas é tola. Foi tola quando aceitou que tudo podia ser feito para “salvar a democracia”. E tola agora para aceitar a promessa vaga de um código de ética para “depois das eleições”, sem que ninguém faça ideia do que uma coisa tenha a ver com a outra.
Tola por não compreender que o vezo patrimonialista, a mistura do público com o privado, a quebra da norma no cotidiano da república, expressa a verdadeira degradação da democracia. E nisso, lamento dizer, todos perdemos.
Como diz um amigo quando se depara com um texto memorável: assino, subscrevo, endosso, emolduro e mando pendurar.
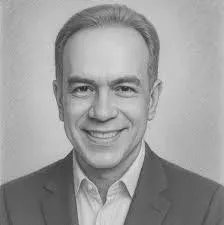
*Caio Gottlieb, jornalista, publicitário, fundador e sócio-proprietário da Caio Publicidade, atua na TV Tarobá desde a sua fundação em 1979, conduzindo o programa de entrevistas Jogo Aberto.